 Lowndes, Marie Belloc, O Hóspede (The Lodger), Quidnovi, Tradução de Mário Dias Correia, 2008.
Lowndes, Marie Belloc, O Hóspede (The Lodger), Quidnovi, Tradução de Mário Dias Correia, 2008.O pano de fundo deste policial intenso é a nevoenta Londres de fim de século de onde emerge um novo tipo de criminoso, uma nova forma de fazer jornalismo e novas técnicas policiais que pudessem desvendar a identidade do homem que espalhava o terror nas madrugadas londrinas e que se auto-denominava como “O Vingador”.
Um casal de serviçais de meia-idade retirados da vida activa, Mr. e Mrs. Bunting, levam uma vida tranquila mas de muitas dificuldades e, apesar de terem um anúncio a indicar que possuem um quarto para alugar, passa muito tempo até surgir alguém interessado nos aposentos propostos. Só quando já haviam atingido um estado de quase desespero é que aparece um inquilino interessado e aparentando uma generosidade que deixa os Bunting aliviados perante a perspectiva de abismo sem retorno que haviam entrevisto apenas algumas horas antes.
Mr. Sleuth, o hóspede, é um homem estranho, possuidor de hábitos fora do comum, mas para o casal ele transforma-se no seu anjo salvador e relegam as suas rotinas pouco usuais para um plano secundário, interessando-lhes unicamente o facto de Sleuth ser educado, cumprir as suas obrigações como inquilino e contribuir para a harmonia da casa com a sua postura plácida, embora excêntrica.
A avidez com que toda a cidade acolhe as notícias diárias da imprensa acerca de desenvolvimentos no caso do Vingador, torna Mrs. Bunting mais esclarecida e atenta, e sendo uma profunda conhecedora dos passos de Mr. Sleuth, apesar de o hóspede a repelir quando se verifica uma maior aproximação, Ellen Bunting começa a pressentir que na estranheza de Sleuth reside algo mais do que pura extravagância de um solitário… Talvez o homenzinho que tão determinantemente entrara nas suas vidas para os salvar da miséria certa, não fosse tão cândido quanto aparentava, talvez a sua inocência não fosse tão absoluta.
Ellen Bunting aguçou os seus sentidos. As saídas nocturnas do hóspede já não lhe pareciam tão inócuas, os seus movimentos no andar de cima, no quarto alugado, causavam-lhe preocupação e a própria indumentária do inquilino passou a ser atentamente inspeccionada com discrição por Mrs. Bunting.
Procurava não se perder em pensamentos que a aterravam e que não partilhava com o marido mas, invariavelmente, o seu sono cada vez mais intranquilo transportava-a para a relação entre o simulado pacifismo de Sleuth e os crimes hediondos que quase todos os dias eram anunciados na imprensa sensacionalista.
Vivia no terror permanente de que alguma pista conduzisse a Scotland Yard a sua casa, à sua perigosa fonte de sustento e cada batida insuspeita na sua porta era motivo de sobressalto e inquietação, cúmplice que agora se sentia de acções imputadas a um louco.
Baseado nos acontecimentos que absorveram Londres no final da década de 80 do século XIX, nomeadamente o aparecimento de um assassino que matava prostitutas e se auto-intitulava “Jack, o estripador”, este é um policial refinado, muito bem conduzido pela autora, esplendidamente escrito e recheado de personagens com uma densidade psicológica rica e não desnecessariamente complexa.
Hitchcock baseou-se nesta obra de Marie Belloc Lowndes para realizar o seu “The Lodger, a story of the London Fog” de 1927, reconhecendo o potencial extraordinário de uma obra caída no esquecimento e cujo ressurgimento agradecemos à Quidnovi.
Um casal de serviçais de meia-idade retirados da vida activa, Mr. e Mrs. Bunting, levam uma vida tranquila mas de muitas dificuldades e, apesar de terem um anúncio a indicar que possuem um quarto para alugar, passa muito tempo até surgir alguém interessado nos aposentos propostos. Só quando já haviam atingido um estado de quase desespero é que aparece um inquilino interessado e aparentando uma generosidade que deixa os Bunting aliviados perante a perspectiva de abismo sem retorno que haviam entrevisto apenas algumas horas antes.
Mr. Sleuth, o hóspede, é um homem estranho, possuidor de hábitos fora do comum, mas para o casal ele transforma-se no seu anjo salvador e relegam as suas rotinas pouco usuais para um plano secundário, interessando-lhes unicamente o facto de Sleuth ser educado, cumprir as suas obrigações como inquilino e contribuir para a harmonia da casa com a sua postura plácida, embora excêntrica.
A avidez com que toda a cidade acolhe as notícias diárias da imprensa acerca de desenvolvimentos no caso do Vingador, torna Mrs. Bunting mais esclarecida e atenta, e sendo uma profunda conhecedora dos passos de Mr. Sleuth, apesar de o hóspede a repelir quando se verifica uma maior aproximação, Ellen Bunting começa a pressentir que na estranheza de Sleuth reside algo mais do que pura extravagância de um solitário… Talvez o homenzinho que tão determinantemente entrara nas suas vidas para os salvar da miséria certa, não fosse tão cândido quanto aparentava, talvez a sua inocência não fosse tão absoluta.
Ellen Bunting aguçou os seus sentidos. As saídas nocturnas do hóspede já não lhe pareciam tão inócuas, os seus movimentos no andar de cima, no quarto alugado, causavam-lhe preocupação e a própria indumentária do inquilino passou a ser atentamente inspeccionada com discrição por Mrs. Bunting.
Procurava não se perder em pensamentos que a aterravam e que não partilhava com o marido mas, invariavelmente, o seu sono cada vez mais intranquilo transportava-a para a relação entre o simulado pacifismo de Sleuth e os crimes hediondos que quase todos os dias eram anunciados na imprensa sensacionalista.
Vivia no terror permanente de que alguma pista conduzisse a Scotland Yard a sua casa, à sua perigosa fonte de sustento e cada batida insuspeita na sua porta era motivo de sobressalto e inquietação, cúmplice que agora se sentia de acções imputadas a um louco.
Baseado nos acontecimentos que absorveram Londres no final da década de 80 do século XIX, nomeadamente o aparecimento de um assassino que matava prostitutas e se auto-intitulava “Jack, o estripador”, este é um policial refinado, muito bem conduzido pela autora, esplendidamente escrito e recheado de personagens com uma densidade psicológica rica e não desnecessariamente complexa.
Hitchcock baseou-se nesta obra de Marie Belloc Lowndes para realizar o seu “The Lodger, a story of the London Fog” de 1927, reconhecendo o potencial extraordinário de uma obra caída no esquecimento e cujo ressurgimento agradecemos à Quidnovi.










































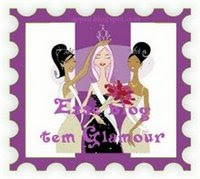



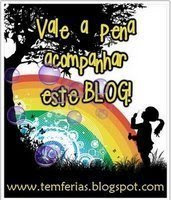





 What Flower
Are You?
What Flower
Are You?